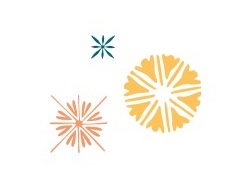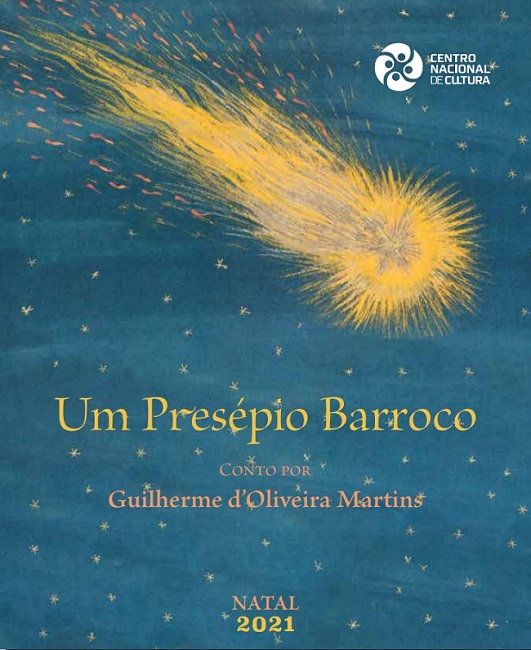Era o Natal de 1669, havia azáfama em casa de Baltazar Gomes
Figueira, artista com dotes e experiência consagrados, e de D. Catarina
d’Ayala, andaluza que se tornara portuguesa por amor. Reinava ainda o
Senhor D. Afonso VI, mesmo que só formalmente, pois era regente seu
irmão D. Pedro, que viria a ser o segundo de seu nome. D. Maria
Francisca de Saboia era a Rainha-Princesa desde abril de 1668, havia
pouco mais de um ano, quando a Bula do Papa Clemente IX autorizou a
anulação do matrimónio com D. Afonso, pelo reconhecimento da sua
incapacidade, e permitiu o consórcio da Rainha com o regente D. Pedro. A
história foi longa e atribulada e não cabe aqui desenvolver o seu
enredo. A filha de Baltazar e Catarina, Josefa, era uma jovem pintora
reconhecida, consagrada pelos muitos que a visitavam para vê-la
desenhar, gravar ou pintar e para adquirirem as suas preciosas naturezas
mortas em que deliciosos acepipes se associavam a decorações florais,
verdadeiras metáforas divinas, que davam luz e cor à melhor poesia do
tempo. Havia movimento, alegria, música, um verdadeiro bailado
permanente, naquela Quinta da Capeleira, nas proximidades de Óbidos,
ponto de encontro de artistas, poetas, pintores e músicos. Há mais de
trinta anos que a família regressara de Sevilha e as ligações andaluzas
continuaram a fazer-se sentir. Francisco Herrera, el Viejo, artista e
pedagogo, tinha sido padrinho e inspirador daquela família. Morrera há
mais de dez anos, mas mantinha-se como referência e as famílias
continuavam a dar-se e a visitar-se. Como habitualmente, também naquele
ano os amigos próximos andaluzes tinham vindo até Óbidos para festejarem
a época natalícia e o Dia de Reis.
Mas havia um pequeno
segredo. Josefa tinha prometido a seu pai uma especial lembrança
natalícia para toda a família e, havia algumas semanas, escondia por
trás de uma manta escura uma tela misteriosa, que não desejava mostrar a
ninguém… Com um método de cuidado e pormenor, que lhe era bem
conhecido, passava horas e horas, quando a casa se aquietava e os
convivas se recolhiam, a tratar a sua obra. Que esconderia ela? Uma
natureza de mil flores e iguarias ou a representação de um ente querido?
O mistério era especialmente desejado e protegido por todos. Entre a
azáfama das vésperas da época grande da Natividade, multiplicava-se nas
cozinhas a confeição das iguarias e acepipes. Josefa não faltava aos
preparativos e apenas se apartava dos amigos e da família para, em horas
tardias, se dedicar ao misterioso tesouro. Mas no tempo em que se
afadigava nos arranjos da casa, eis que aprontava as mesas com as
iguarias, numa decoração profusamente barroca, com pão de ló, biscoitos,
suspiros, queijadas, sonhos, fatias douradas, azevias, broas de milho,
morgados, ovos-moles, toucinho do céu, castanhas doces, caramelos,
pudins, leite-creme, e os assombrosos queijos da Serra tudo com o
enquadramento das pequenas flores, dos linhos engomados, dos tecidos de
cores variegadas, das cerâmicas, dos cestos, das frutas abundantes, as
peras, as maçãs, as romãs, os figos, as castanhas, as nozes ou as
amêndoas. Mas em toda aquela profusão, havia a ideia de projetar o
Menino Deus na eterna representação eucarística da superação da ideia
antiga do sacrifício judaico, agora substituído pela vitalidade da
natureza que juntava o pão e o vinho, o leite e o mel… Para a jovem
Josefa, no fundo, não haveria melhor representação para a Arte do que a
ideia do nascimento, como metáfora da criação, que permanentemente
revive e se repete. Havia poucos dias, nos encontros que mantinha no
Paço Real com a Rainha-Princesa D. Maria Francisca, que por ela tinha
especial apreço, enquanto pousava para um retrato, esta a desafiara a
tornar viva na sua pintura um presépio no qual pudesse deixar presente
uma vida criadora, permanentemente lembrada. E vinha à memória Jerónimo
Baía e a sua bela invocação: «– Venha ao portal logo; / Verá que não
minto, / Pois de várias sortes / É doce infinito. / – Desculpa, minha
alma. / Mas ah! Que diviso?! / Envolto em mantilhas, / Um Infante
lindo!». E eis que o segredo se revela. Num momento fugaz, Josefa
mostrou a seu pai a obra que a ocupava tão intensa e misteriosamente. E
Baltazar Figueira teve um assomo de orgulho. Essa era a obra que sempre
ambicionara fazer e apresentar, não como mostra de artesão, mas como
humaníssima expressão de um nobre sentimento. Conhecera muitas
representações de presépios, mas nunca encontrara uma ligação tão
completa entre a humanidade e o espírito. Ali estavam um pastor e uma
pastora, que invocavam as melhores éclogas e que reclamavam toda a
riqueza dos diálogos de mestre Gil e do seu teatro – como figuração da
vida. Ela e ele, os dois pastores, trazem nos cestos, amorosamente
arranjados, envoltos no mais alvo dos linhos, os melhores manjares,
símbolo e destino de um doce infinito. E adivinham-se sopa e arroz de
cabidela, quase se ouve o grasnar do pato que os acompanha. É a vida
vivida que ali está bem presente. O pastor e a pastora honram o
Menino-Deus, que os anjos papudos glorificam, suspensos como se não
tivessem peso – “Gloria in Excelsis Deo”. Por perto, estão o asno e o
boi a aquecer o ambiente de luz. E uma vela acesa torna-se penumbra
diante da intensidade que emana da criança, que os pais protegem com
desvelo. Maria e José oferecem-se ao pequeno Emmanuel e os seus olhares
cruzam-se num diálogo que nos interpela. Foram grandes o júbilo e a
festa quando a pintura foi revelada, tudo dominando. Em boa hora, Josefa
aceitara o desafio de D. Maria Francisca e dera vida a um presépio
único, que passou a representar a quietude e a paz. Continuava a azáfama
em casa de Baltazar Gomes Figueira, artista com dotes e experiência
consagrados, e de Catarina, andaluza que se tornara portuguesa por amor.
Josefa d’Ayala, dita de Óbidos, fizera com muito amor aquele quadro de
luz e de serenidade que se tornou centro e motivo de entrega, de troca e
de encontro para aquela família que celebrava a vida que vivia e a
amizade que cultivava…
Bom Natal!
Guilherme d’Oliveira Martins